Brasil e as COPs: nosso legado e para onde vamos
24/09/25 - Gabriela Mota da Cruz | Victor Martins Cardoso
Meio Ambiente | Geopolítica | Política
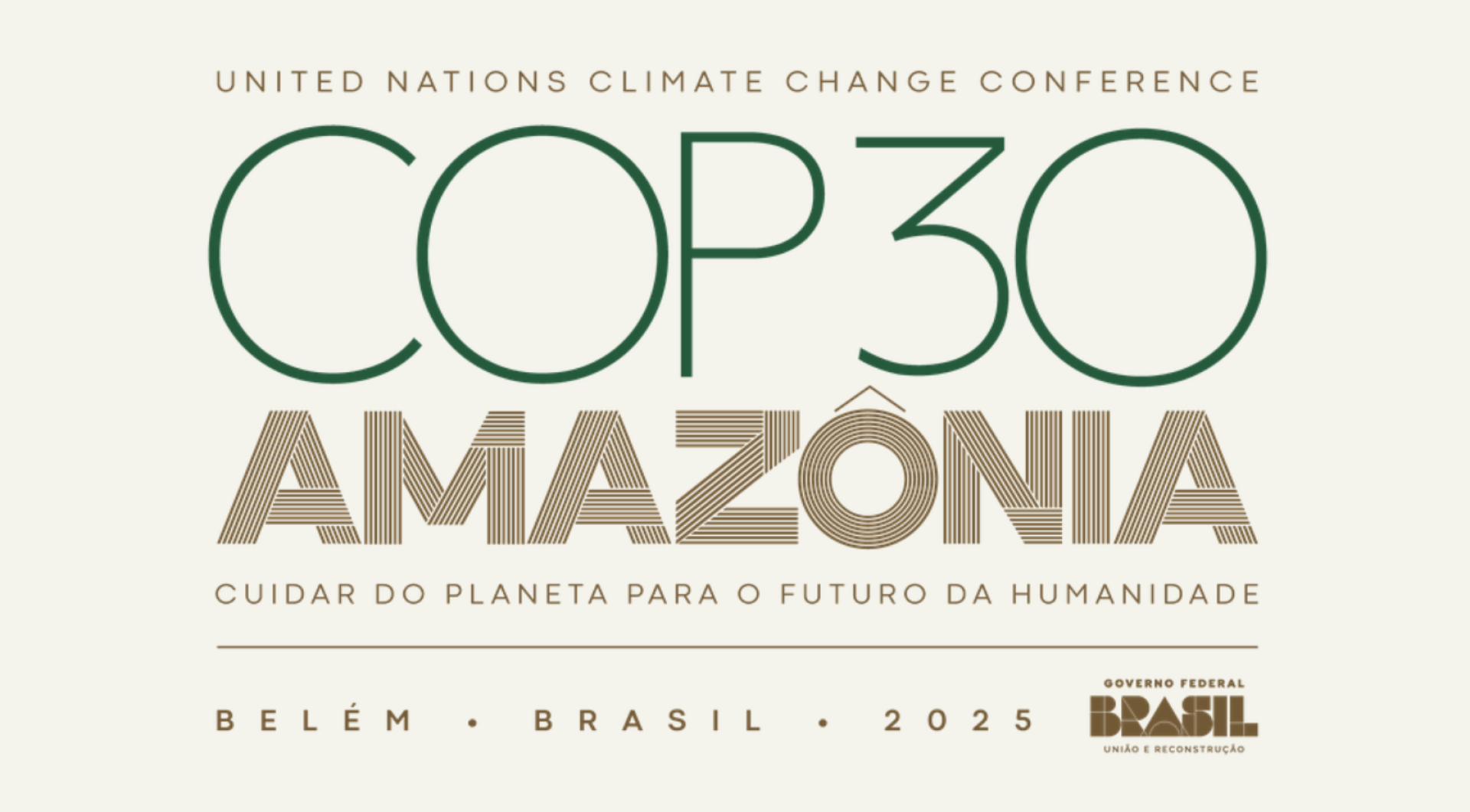
Logomarca oficial do Governo do Brasil para a 30ª edição da Cúpula do Clima das Nações Unidas
Uma reflexão sobre o legado nacional nas negociações climáticas e os desafios estratégicos rumo à COP30.
As mudanças climáticas não são um fenômeno recentemente “descoberto”. Em 1856, Eunice Foote, uma cientista norte-americana, foi a primeira a relacionar a concentração de CO2 na atmosfera ao aquecimento global[1]. Após ela, no final do século XIX, Svante Arrhenius, químico sueco, publicou seus cálculos sobre o aumento da temperatura terrestre decorrente da duplicação dos níveis de CO2 atmosférico em relação ao período pré-industrial[2]. E, em 1957, o oceanógrafo Roger Revelle e o físico-químico Hans Suess avaliaram a relação entre a queima de combustíveis fósseis e o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera[3]. Entretanto, foi apenas em 1988, após altas temperaturas registradas no verão dos EUA e a criação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que o tema ganhou notoriedade na mídia, entre a população e os políticos.
Desde então, governos e sociedade civil procuram formas de criar um espaço de diálogo sobre essa temática com o objetivo de adotar medidas para desacelerar a degradação ambiental. O Brasil sempre exerceu posição de destaque nessas discussões, uma vez que seu território abriga a maior floresta tropical, as maiores reservas de água doce do mundo e é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Neste ano, o país se prepara para receber a COP30, destacando o fato de ser a primeira sediada na Amazônia. Para que o Brasil continue sendo protagonista no debate de mudanças climáticas, o governo brasileiro e a sociedade civil precisam mostrar que continua honrando o seu legado ambiental e quais medidas tomará para enfrentar o desmatamento ilegal, as queimadas e as emissões de gases de efeito estufa (GEEs).
Esse legado começou em 1992, quando o país foi palco da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como Eco-92, Rio-92 ou Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro. Nela, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) foi criada com o objetivo de estabilizar as concentrações de GEE na atmosfera, evitando impactos adversos causados por ações humanas no sistema climático. O tratado também visava garantir a segurança alimentar, a resiliência dos ecossistemas e o desenvolvimento sustentável.
A Eco-92 representou um marco histórico nas negociações ambientais globais, reunindo líderes de mais de 170 países, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil. Além da UNFCCC, a conferência também resultou em acordos fundamentais como a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção de Combate à Desertificação (UNCCD), além de lançar a Agenda 21, um plano de ação voltado para o desenvolvimento sustentável.
Desde então, a UNFCCC tornou-se o principal espaço para discussões e ações climáticas, materializadas nas reuniões anuais da Conferência das Partes (COP). A COP3, realizada em 1997, introduziu o Protocolo de Kyoto, um marco nas negociações climáticas globais por estabelecer metas obrigatórias de redução de emissões de GEE para países desenvolvidos, reconhecendo suas responsabilidades históricas no aquecimento global. O Protocolo estipulou metas específicas para o período de 2008 a 2012 e introduziu instrumentos inovadores, como o comércio de emissões regulado, que permitia a transferência de créditos entre países com diferentes níveis de cumprimento de metas. O Brasil teve papel ativo nas negociações e ratificou o Protocolo em 2002, por meio do Decreto Legislativo nº 144/2002, sendo um dos primeiros países em desenvolvimento a apoiar oficialmente o acordo e a organizar sua regulamentação interna.
Um dos instrumentos previstos pelo Protocolo de Kyoto foi o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que permitia a países desenvolvidos investir em projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento, gerando créditos de carbono para o cumprimento de suas metas. O Brasil participou ativamente desse instrumento e foi o primeiro país a registrar um projeto aprovado pela ONU: o aterro sanitário de Nova Iguaçu (RJ), em 2004, conhecido como projeto NovaGerar, que promoveu a captura e queima de biogás para geração de energia elétrica. A partir daí, o país passou a concentrar um número relevante de projetos de MDL, com destaque para iniciativas nos setores de energia renovável, tratamento de resíduos e uso da terra. No mesmo ano, foi criada a Autoridade Nacional Designada (AND), sob responsabilidade da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, para aprovar e acompanhar os projetos de MDL no Brasil, assegurando que estivessem alinhados com as diretrizes nacionais de desenvolvimento sustentável.
No setor agropecuário, o MDL também foi aplicado a projetos com foco no manejo de resíduos. Um exemplo é o projeto da empresa Amazon Carbon, que implementou biodigestores anaeróbicos em granjas de suínos, com o objetivo de capturar o metano gerado a partir dos dejetos e utilizá-lo na produção de energia. A iniciativa permitiu a redução de emissões de gases de efeito estufa e a geração de créditos de carbono. Outros projetos semelhantes foram registrados no setor, com ênfase em sistemas de tratamento de resíduos e aproveitamento energético, especialmente em atividades de suinocultura.
Apesar de representar um marco nas negociações climáticas, o Protocolo de Kyoto enfrentou limitações em sua implementação. A formação do Umbrella Group — coalizão de países como Estados Unidos, Canadá e Austrália — resultou em pressões por metas menos rígidas e compromissos não vinculantes, isto é, metas sem exigência jurídica de cumprimento. A retirada dos Estados Unidos em 2001 reduziu o alcance global do tratado, e a ausência de obrigações para economias emergentes, como China e Índia, gerou assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nesse contexto, o Brasil, embora sem metas obrigatórias, participou ativamente das negociações e utilizou os instrumentos do Protocolo (como o MDL, conforme já mencionado), para viabilizar projetos de redução de emissões e atrair investimentos externos, consolidando sua presença nas iniciativas multilaterais de enfrentamento à mudança do clima.
Diante dessas limitações, a comunidade internacional reconheceu a necessidade de um novo acordo mais inclusivo e eficaz. A COP21, realizada em Paris em 2015, resultou na adoção do Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 °C acima dos níveis pré-industriais, com esforços para restringi-lo a 1,5 °C. Diferentemente do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris envolve compromissos de todos os países, independentemente de seu nível de desenvolvimento, por meio das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), nas quais cada nação estabelece suas próprias metas de redução de emissões. O Acordo entrou em vigor em 4 de novembro de 2016, menos de um ano após sua adoção, refletindo um consenso global mais amplo e uma resposta mais ágil às mudanças climáticas.
O Brasil novamente assumiu um papel de protagonismo no Acordo de Paris ao apresentar metas climáticas ambiciosas em sua NDC. Originalmente, o governo brasileiro apresentou uma NDC que se comprometia a reduzir as emissões de GEE em 37% até 2025 e em 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Em 2024, o Brasil atualizou sua NDC, comprometendo-se a reduzir as emissões líquidas de GEE entre 59% e 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005.
No Brasil, as emissões de gases de efeito estufa estão fortemente associadas ao setor agropecuário, responsável por cerca de 28% do total nacional em 2023, segundo estimativas do SEEG (2024). Boa parte dessas emissões decorre de processos biológicos naturais, como a fermentação entérica dos ruminantes — que libera metano (CH₄) durante a digestão de fibras — e do manejo de dejetos orgânicos, que pode gerar metano e óxido nitroso (N₂O). Apesar do peso do setor nas emissões, a intensidade por quilo de carne vem caindo nas últimas décadas, reflexo de ganhos de produtividade, genética, nutrição e práticas de manejo mais eficientes[4].
Outro ponto central da agenda climática brasileira está ligado à mudança de uso da terra, que respondeu por cerca de 46% das emissões nacionais em 2023. Essas emissões estão fortemente associadas ao desmatamento, especialmente em áreas com fragilidade na governança fundiária e fiscalização insuficiente, o que abre espaço para práticas ilegais. Estudos recentes apontam que grilagem de terras, extração ilegal de madeira, mineração e uso agropecuário em áreas não regularizadas compõem o ciclo que alimenta a maior parte da supressão de vegetação nativa[5].
Esse quadro evidencia que o cumprimento da NDC brasileira depende tanto da redução das emissões ligadas ao setor produtivo quanto do combate estrutural ao desmatamento ilegal. A pecuária desempenha um papel estratégico nesse processo, não apenas por estar no centro da agenda de emissões, mas também porque já possui exemplos de transição em curso, como o Protocolo do Boi China e os sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta (ILPF), que mostram que produtividade e sustentabilidade podem caminhar juntas[6].
Após a assinatura do Acordo de Paris em 2015, o Brasil continuou a participar das Conferências das Partes (COPs), mas sua atuação oscilou em termos de ambição e credibilidade internacional. Entre 2019 e 2022, durante o governo Bolsonaro, a imagem do país no debate climático foi marcada por críticas ao enfraquecimento das políticas ambientais e pelo aumento expressivo das taxas de desmatamento na Amazônia. Nesse período, a participação brasileira nas COPs foi percebida com desconfiança por parte da comunidade internacional. Na COP26, realizada em Glasgow em 2021, o Brasil anunciou metas atualizadas para sua NDC e compromissos como o fim do desmatamento ilegal até 2028. No entanto, a ausência de políticas internas robustas de fiscalização e controle territorial gerou dúvidas sobre a viabilidade desses compromissos. Além disso, observou-se uma redução do espaço para a sociedade civil e órgãos técnicos na formulação das posições brasileiras durante as negociações internacionais, o que limitou a diversidade de vozes no processo decisório.
Apesar desse cenário, algumas políticas climáticas estruturadas anteriormente seguiram operando, com destaque para o setor agropecuário. Lançado em 2010, o Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) continuou a ser referência na promoção de práticas sustentáveis no campo, como a recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio e plantio direto. O plano foi mantido e reeditado como Plano ABC+ para o período de 2020–2022, com metas ampliadas de mitigação das emissões do setor. O reconhecimento internacional do Plano ABC como uma política pública voltada à transição para uma agropecuária de baixo carbono permitiu que o Brasil apresentasse contribuições técnicas relevantes nas COPs, especialmente em temas ligados à segurança alimentar e agricultura sustentável. Ainda assim, o impacto dessas ações permaneceu limitado diante da expansão do desmatamento e da fragilidade na governança ambiental observada no período.
A COP29, realizada em novembro de 2024 em Baku (Azerbaijão), ocorreu em um momento de reformulação da política climática brasileira. Um dos principais temas debatidos foi o financiamento climático. Os países desenvolvidos propuseram elevar o valor do apoio financeiro a países em desenvolvimento de US$ 100 bilhões para US$ 300 bilhões anuais a partir de 2035. Apesar do aumento, a proposta foi considerada insuficiente por representantes de países mais vulneráveis, que destacaram a necessidade de recursos mais imediatos e de mecanismos mais acessíveis para implementação de ações de mitigação e adaptação.
Na COP29, houve avanços técnicos no Artigo 6 do Acordo de Paris, que trata da cooperação entre países para alcançar suas metas climáticas, inclusive por meio de mercados internacionais de carbono. Foram definidos critérios e metodologias para créditos de carbono, fortalecendo o mercado voluntário. No entanto, temas centrais, como a criação de um registro internacional para evitar dupla contagem e regras de integridade ambiental e transparência, continuaram sem consenso, impedindo a regulamentação completa do mercado global. Paralelamente, o Brasil sancionou a Lei nº 15.042/2024, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), voltado a grandes emissores dos setores industrial e energético. Embora a agropecuária tenha ficado fora, a lei reconhece mercados voluntários e programas estaduais que podem incluir práticas rurais sustentáveis, como manejo de pastagens e preservação florestal. A medida aproxima a política climática nacional das discussões internacionais, mesmo fora do escopo formal do Artigo 6.
O Brasil ainda apresentou metas climáticas mais ambiciosas na COP 29. Além do aumento da NDC (como já mencionado), o país estabeleceu limites de emissões de 1,32 bilhão de toneladas de CO2 equivalente em 2025 e 1,20 bilhão de toneladas em 2030. O ajuste da NDC brasileira foi liderado pelo Comitê Interministerial de Mudança do Clima (CIM), criado para incorporar a agenda climática de forma transversal em todos os níveis de governo.
A COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025, representa um momento decisivo para o Brasil. A escolha da Amazônia como sede da conferência destaca a relevância do país em questões ambientais globais e coloca o desmatamento, a preservação da biodiversidade e a justiça climática no centro das discussões. Para o Brasil, o desafio será demonstrar liderança em iniciativas concretas de mitigação e adaptação, especialmente em um cenário no qual o combate ao desmatamento e o fortalecimento de políticas públicas de sustentabilidade são observados de perto pela comunidade internacional. Além disso, o país terá a responsabilidade de promover um consenso global em torno de mecanismos de financiamento climático mais robustos e do mercado de carbono, exigindo que demonstre capacidade de conciliar demandas domésticas com prioridades globais.
Conduzir a COP30 será uma oportunidade para o Brasil reforçar sua posição como protagonista da agenda climática global, especialmente em um momento em que a governança ambiental enfrenta desafios crescentes. O evento poderá consolidar a liderança brasileira em temas como transição energética, inclusão social e preservação ambiental, mas exigirá esforços coordenados entre o governo, o setor privado e a sociedade civil para transformar compromissos em ações concretas. Essa articulação será fundamental para garantir que a COP30 não apenas reforce o protagonismo do Brasil, mas também contribua para um avanço real na luta contra as mudanças climáticas, alinhando expectativas globais com resultados tangíveis que fortaleçam a confiança na cooperação internacional.
[1] FOOTE, Eunice Newton. Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays. The American Journal of Science and Arts, v. 22, p. 382–383, 1856. Acesso em: 12 fev. 2025.
[2] TYNDALL, John. The Bakerian Lecture. Philosophical Transactions 151 (1861), p. 1-37. Acesso em: 12 fev. 2025.
[3] REVELLE, Roger; SUESS, Hans E. Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO₂ during the Past Decades. Tellus, v. 9, n. 1, p. 18-27, 1957. Acesso em: 12 fev. 2025.
[4] Ler mais aqui.
[5] Ler mais aqui.
[6] Ler mais aqui.
Referências e leituras indicadas:
INSTITUTO IGARAPÉ. Dinâmicas do ecossistema dos crimes ambientais na Amazônia Legal. Artigo Estratégico 64. Brasília: Instituto Igarapé, 2024.
MORGADO, Renato; STASSART, Joachim; TORSIANO, Richard; CARDOSO, Dário; COLLAÇO, Flávia M. de A. Governança fundiária frágil, fraude e corrupção: um terreno fértil para a grilagem de terras. Brasília: Transparência Internacional - Brasil, 2021. Acesso em: 31 nov. 2024.
OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil: 1970-2023. São Paulo: SEEG, 2024. Acesso em: 10 dez. 2024.
TORSIANO, Richard; MARQUES, Taffarel Pereira. A regularização fundiária na Amazônia Legal: marcos legais e governança de terras. Brasília: R. Torsiano Consultoria, 2022. Acesso em: 31 nov. 2024.
UNFCCC. Conferência do clima da ONU COP29 concorda em triplicar o financiamento para países em desenvolvimento até 2035. Acesso em: 17 jun. 2024.
Já segue nossos canais oficiais? Clique e acompanhe nosso Canal de WhatsApp, nos siga no LinkedIn e se inscreva para receber quinzenalmente nossa Newsletter. Se mantenha atualizado com pesquisas e conhecimento sobre as questões globais do agronegócio.
Leia Também

Artigos em jornais e revistas | Insper Agro Global | 18/12/25
Mais salvaguardas e ações protecionistas: há motivos para o receio da União Europeia em um acordo com o Mercosul?
Mecanismos de salvaguardas aprovados pelo Parlamento Europeu podem prejudicar a concretização do acordo entre Mercosul e União Europeia

Artigos em jornais e revistas | Insper Agro Global | 05/12/25
Opinião: O verdadeiro entrave do seguro rural brasileiro
Seguro rural é essencial para a sustentabilidade dos negócios no campo, mas sua expansão exige mudanças urgentes

Artigos em jornais e revistas | 03/12/25
Risco de judicialização pode colocar em xeque a Lei do Licenciamento Ambiental

Artigos em jornais e revistas | Insper Agro Global | 03/11/25
Uma nova COP, uma nova chance para o Brasil
Uma nova COP, uma nova chance para o Brasil