OPINIÃO: Conflitos expõem vulnerabilidades em insumos e redesenha pressões geopolíticas sobre o agro
13/08/25 - Guilherme Marques Campbell

canva.com
Conflitos entre Israel e Irã destacaram relação de dependência do setor por insumos internacionais e suas oscilações de preços em momentos de crise
O Oriente Médio voltou a ocupar o centro das atenções geopolíticas globais entre maio e junho de 2025, quando a escalada entre Irã e Israel evoluiu para um confronto aberto, com ataques coordenados e ameaças diretas à segurança da navegação no Estreito de Ormuz. Apesar do cessar-fogo anunciado em julho por meio de esforços diplomáticos multilaterais, o risco logístico ainda não foi completamente dissipado. Analistas alertam que tensões persistem no entorno do Golfo, mantendo elevado o nível de incerteza nos mercados internacionais. O ponto de inflexão, no entanto, torna-se ainda mais relevante quando se observa o impacto desse cenário sobre países estruturalmente expostos à instabilidade logística na região. O Brasil, altamente dependente da importação de fertilizantes nitrogenados, muitos deles escoados por rotas que passam justamente pelo Golfo Pérsico, aparece entre os mais vulneráveis aos desdobramentos comerciais da guerra.
Com a escalada da situação, os Estados Unidos intensificaram sua presença militar na região, posicionando navios e reforçando sua retórica de preocupação com a estabilidade regional e em apoio a Israel. Como consequência, o Irã passou a ameaçar explicitamente a interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz, por onde circulam entre 20% e 30% de todo o petróleo exportado por via marítima e, o que é menos comentado, uma fração crítica do comércio global de fertilizantes nitrogenados. Segundo dados compilados pelo Rabobank[1], aproximadamente 45% das exportações globais de ureia passam direta ou indiretamente por essa rota, com destaque para o Irã (5,5 milhões de toneladas por ano), Catar (5 milhões), Emirados Árabes (2 milhões), Bahrein, Omã (3 milhões) e Arábia Saudita (costa leste). Além disso, cerca de 25% da amônia, 20% do Di-amônio fosfato (DAP), 10% do monoamônio fosfato (MAP) e quase 30% do enxofre global também circulam pelas rotas do Golfo Pérsico, reforçando o papel logístico estratégico da região para a segurança alimentar global.
Embora o fechamento total do estreito seja improvável, por razões técnicas, diplomáticas e econômicas; diferente de episódios anteriores, desta vez a ameaça não foi vista como retórica isolada. Nas semanas seguintes ao ataque, a combinação entre movimentação de tropas, retórica beligerante e ataques localizados no Golfo Pérsico foi suficiente para disparar o alarme dos mercados globais. O simples risco de interrupção já impôs um “prêmio de guerra” sobre os embarques e seguros. No final de junho, o barril do petróleo Brent subiu[2] mais de 7% em poucas horas, refletindo a sensibilidade dos mercados a qualquer instabilidade naquela faixa de 21 milhas náuticas que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Em paralelo, a produção de ureia foi temporariamente interrompida tanto no Irã quanto no Egito, aumentando ainda mais a escassez de oferta e pressionando os preços internacionais.
A tensão geopolítica se converte, então, em ruptura econômica concreta, reacendendo os alertas de inflação e insegurança logística nas cadeias globais[3] de suprimentos, especialmente, aquelas que dependem de insumos energéticos, fertilizantes nitrogenados e transporte marítimo regular. Aqui a gente já começa a entender o peso real da situação. Embora o epicentro do conflito esteja a milhares de quilômetros do Brasil, o setor agropecuário nacional já começou a dar sinais de preocupação ou de olhar com mais atenção para a situação. Um dos mercados que mais reagiu foi o setor de fertilizantes.
O Brasil, estruturalmente dependente de fertilizantes nitrogenados, encontra-se entre os países mais vulneráveis a esse cenário. Importamos mais de 90% da ureia que consumimos, sendo 17% diretamente do Irã, e nossas compras se concentram entre os meses de junho e novembro, no pico da preparação da safra de verão. Essa sazonalidade faz com que choques logísticos no Golfo tenham efeitos imediatos sobre o mercado doméstico. Ainda de acordo com Taylor e Fonseca (2025), autores do artigo do Rabobank, o risco de uma interrupção total no Estreito de Ormuz poderia elevar os preços da ureia no Brasil em mais de 100% nos próximos três meses, caso a crise se agrave. Mesmo no cenário de uma interrupção parcial, a expectativa já seria de alta de até 35% no trimestre, o que afetaria diretamente o planejamento e a rentabilidade da próxima safra. A gravidade da situação não reside apenas na elevação dos preços, mas no tipo de vulnerabilidade que ela expõe, a do agro brasileiro como refém logístico de uma rota única, altamente concentrada e geograficamente instável.
Fertilizantes: o elo mais exposto da dependência brasileira
O aumento abrupto no preço da ureia, observado nos dias seguintes aos ataques, foi apenas o primeiro sintoma visível de um problema mais profundo. Se a volatilidade do petróleo pressiona a logística e o custo do frete, a instabilidade na oferta de fertilizantes nitrogenados afeta diretamente o coração da estratégia agrícola brasileira: a capacidade de planejar e executar uma safra com previsibilidade, escala e segurança. Ou seja, a guerra entre Irã e Israel não representa apenas um choque momentâneo de preços, mas tem grandes chances de a exposição de um elo frágil e ainda não resolvido na política agrícola nacional. A figura a seguir ajuda a visualizar essa vulnerabilidade ao mostrar o déficit na balança de fertilizantes nitrogenados por país. O Brasil aparece entre os mais expostos do mundo, ao lado de grandes importadores como Índia e Austrália, evidenciando a urgência de reduzir a dependência externa por insumos estratégicos.
Figura 1 – Dependência global na balança comercial de fertilizantes nitrogenados[4]

Elaboração: RaboResearch (2025), com base em dados da International Fertilizer Association (IFA) e CRU Group.
Desde então, o cenário agravou-se. A consultoria StoneX[5] confirmou a paralisação da produção de ureia em unidades no Irã e no Egito, pressionando a oferta e provocando aumentos de 20% a 40% nos preços internacionais em poucos dias. A dependência por ureia importada, que, como já indicado, é absoluta, não é uma questão conjuntural, mas sim estrutural. O Brasil internalizou um modelo produtivo altamente intensivo em insumos externos, especialmente nitrogenados e fosfatados, cujas cadeias de suprimento se encontram, em grande parte, sob influência direta de contextos geopolíticos instáveis. José Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa Solos, destacou que o Brasil está fortemente exposto a qualquer “soluço” da estabilidade geopolítica do mundo. A imagem é precisa, e o caso do Golfo Pérsico ilustra o ponto. Irã e Omã, ambos diretamente implicados no conflito, estão entre os principais fornecedores de ureia para o Brasil. O que aconteceria se essa rota fosse de fato interrompida amanhã?
O que torna o episódio ainda mais sensível é o seu timing. A escalada no Oriente Médio coincidiu com o momento decisivo de definição de compras para a safra 2025/26. Em diversas regiões produtoras, entre 30% e 40% dos volumes de fertilizantes ainda estavam em aberto quando os preços começaram a subir, como constam os dados da Argus[6]. E, em um mercado em que o custo do insumo pode responder por mais de 30% do custo total de produção em culturas como milho e trigo, como indica o estudo[7] do Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), esse tipo de oscilação tem potencial direto sobre as margens dos produtores e, por consequência, sobre a formação de preços dos alimentos.
Mais do que encarecer o insumo, a crise compromete a previsibilidade logística, e é essa combinação que preocupa o setor. Em um país onde a janela de aplicação no campo é estreita e rigidamente condicionada ao regime de chuvas, atrasos de algumas semanas podem ter efeitos desproporcionais sobre o desempenho da lavoura. Além disso, o receio de que novos embargos, ataques ou sanções agravam a disponibilidade futura leva muitos importadores a postergar decisões ou a repassarem incertezas para os elos seguintes da cadeia.
Aqui, cabe entender que o problema da dependência externa por fertilizantes não é fruto de negligência recente nem de um projeto agroindustrial à deriva. Desde 2022, quando a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia desorganizou fluxos globais de potássio e nitrogênio, o tema da autonomia na produção de insumos passou a ocupar um lugar de maior destaque na formulação de políticas públicas. A resposta institucional mais robusta veio no ano seguinte, com o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes 2022–2050 (PNF), um esforço coordenado entre governo federal, setor produtivo e entidades de pesquisa para desenhar uma estratégia de longo prazo capaz de reduzir a dependência externa e reativar a capacidade nacional de produção.
O plano estabelece diretrizes ambiciosas, com metas de expansão da capacidade instalada para nutrientes estratégicos e previsão de aumento expressivo na produção de organominerais, remineralizadores e outras fontes alternativas. Além disso, outras iniciativas recentes do governo também tem apontado na direção de uma maior autonomia na produção de insumos, com vem sendo o caso do Programa Nacional de Bioinsumos[8], lançado em 2020 e reforçado em 2022, que discute mecanismo de incentivo ao desenvolvimento e uso de insumos biológicos, e o marco regulatório de bioinsumos sancionado em dezembro de 2024 (Lei nº 15.070/2024)[9], que estabeleceu categorias específicas para biofertilizantes, bioestimulantes e inóculos, facilitando registros e ampliando a segurança jurídica para investidores no setor. No entanto, como frequentemente ocorre em políticas industriais de longo ciclo, a travessia entre o diagnóstico e a execução concreta tem sido lenta. Até o momento, mais de dez projetos de fábricas de fertilizantes permanecem em compasso de espera, aguardando marcos regulatórios mais claros, sinalizações de estabilidade institucional e redução de entraves burocráticos para atrair capital privado. Ou seja, mesmo que estivéssemos inclinados a pular etapas e discutir soluções antes de esgotar o diagnóstico do problema mais recente, poderíamos afirmar com precisão que o PNF por si só não fará milagres. Para que o plano cumpra o papel estratégico que se espera dele, será necessário um esforço coordenado entre diferentes frentes, como investimentos em infraestrutura, segurança jurídica, estímulo à inovação tecnológica e articulação entre entes federativos.
Essa distância entre intenção e execução fica ainda mais evidente quando observamos os movimentos recentes do mercado. Segundo o boletim Agro Mensal[10] de junho de 2025, elaborado pela equipe do Itaú BBA, os preços dos fertilizantes nos portos brasileiros já vinham demonstrando tendência de alta antes mesmo dos desdobramentos mais críticos do conflito, com a ureia registrnando um aumento de 7,5% de (US$ 367/t para US$ 395/t), o Monoamônio Fosfato (MAP) com um alta de 3,2% (US$ 700,8/t para US$ 722,5/t) e o Cloreto de Potássio (KCl) com uma variação de aproximadamente 2,5% (de US$ 360/t para US$ 365/t.)[11] Em paralelo, a Yara International, maior fabricante global de fertilizantes, alertou que o prolongamento das tensões no Estreito de Ormuz pode desencadear um “food price shock"[12] global, afetando principalmente países altamente dependentes da importação de insumos nitrogenados, como o Brasil. Com a intensificação das tensões no Golfo, o relatório alerta para um “prêmio de risco geopolítico” crescente sobre os nitrogenados, em especial os embarcados a partir de Irã, Catar e Emirados Árabes, países diretamente implicados na rede de fornecimento ao Brasil. O relatório também destaca a deterioração da relação de troca entre ureia e milho no país, provocada pela valorização dos fertilizantes combinada à retração nas cotações do cereal, um sinal de que o impacto do conflito pode se estender para além da atual safra e pressionar custos também na safrinha de 2026, afetando ainda mais a tomada de decisão dentro das propriedades, que segundo a CNN Brasil, já fez com que o poder de compra do produtor rural brasileiro atingiu o menor patamar dos últimos 30 meses, com a relação de troca entre MAP e soja caindo de 28 para 31 sacas por tonelada, pressionando margens e elevando riscos para a próxima safra.
A repetição desses choques, em intervalos cada vez mais curtos, acende um sinal claro de que não se trata mais de responder a emergências, mas de repensar estruturalmente os fundamentos da política de insumos no Brasil, entendendo que políticas públicas voltadas ao agro também são, cada vez mais, o carro-chefe de como projetamos nossa política externa. E isso exige mais do que medidas pontuais, requer um horizonte de decisões ancorado em um projeto de desenvolvimento nacional, que envolva coordenação federativa, política industrial robusta e, sobretudo, a internalização da ideia de que segurança alimentar passa, acima de tudo, por pensar soberania nacional em logística e tecnologia na produção de fertilizantes.
*O texto acima trata-se de um texto de “opinião”, que é de responsabilidade dos seus autores, não refletindo, necessariamente, pesquisas ou opiniões do Insper Agro Global.
[1] Disponível aqui
[2] Disponível aqui
[3] Disponível aqui
[4] Em verde, os países com maior superávit de produção; em vermelho, os países com maior déficit, em volume.
[5] Disponível aqui
[6] Disponível aqui
[7] Disponível aqui
[8] Disponível aqui
[9] Disponível aqui
[10] Disponível aqui
[11] Disponível aqui
[12] Disponível aqui
Já segue nossos canais oficiais? Clique e acompanhe nosso Canal de WhatsApp, nos siga no LinkedIn e se inscreva para receber quinzenalmente nossa Newsletter. Se mantenha atualizado com pesquisas e conhecimento sobre as questões globais do agronegócio.
Leia Também

Notícias | Exame | 17/01/26
Com acordo UE-Mercosul, Brasil deve ganhar R$ 20 bilhões após uma década

Notícias | La Croix | 16/01/26
Do ponto de vista brasileiro, o acordo UE-Mercosul superestimou os benefícios para o agronegócio
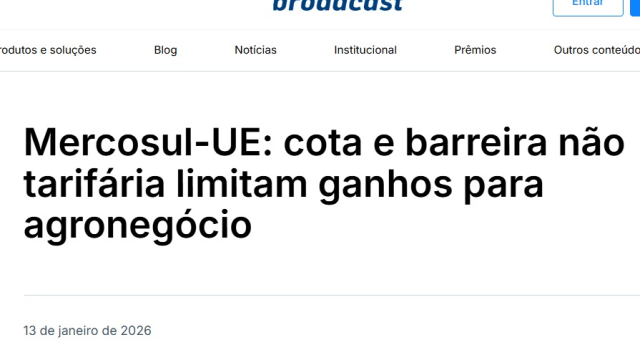
Notícias | Broadcast Agro | 13/01/26
Mercosul-UE: cota e barreira não tarifária limitam ganhos para agronegócio
